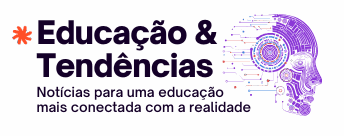A verdadeira inclusão não é um programa, nem uma sigla na moda. É uma ecologia institucional
A escola que sonhamos é como uma floresta. Diversa, interconectada, viva. Mas a escola que herdamos ainda se assemelha às fábricas da modernidade: organizada por setores, controlada por centros decisórios, padronizada em sua lógica e seus ritmos. Vivemos, portanto, um tempo-limite. Se quisermos promover o acesso, a diversidade e a inclusão, não basta abrir as portas da escola a novos corpos e identidades. É preciso refazer seus alicerces, revisitar sua ancestralidade e reconstruir seu projeto pedagógico.
O cientista italiano Stefano Mancuso, no livro A Revolução das Plantas: um novo modelo para o futuro (Ubu Editora, 2019), nos alerta: nossas tecnologias e formas de organização social imitam o sistema nervoso central humano, com seu centro de comando e seus canais unidirecionais de controle. A escola, nessa perspectiva, torna-se uma extensão dessa arquitetura “neuronocêntrica”, em que poucas vozes decidem e a maioria executa. Mas e se olhássemos para as plantas como inspiração? E se a escola fosse pensada como um organismo de inteligência distribuída, como uma rede de rizomas que se transforma e aprende coletivamente, a partir da diversidade de seus sujeitos?
A verdadeira inclusão não é um programa, nem uma sigla na moda. É uma ecologia institucional.
Significa abandonar a lógica da integração, que apenas acomoda a diferença, e abraça a inclusão como transformação do ambiente. Uma escola inclusiva é aquela que se adapta criativamente aos diferentes ritmos de aprendizagem, que respeita trajetórias, que não se limita a rotular por metodologias genéricas ou modelos importados, como STEAM (Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática) ou PBL (Aprendizagem Baseada em Problemas), cujos méritos são reconhecidos, mas que precisam ser apropriados com identidade própria.
Valorizar a singularidade como elemento essencial é reconhecer que cada escola pode e deve construir suas próprias formas de se apresentar ao mundo.
Ao preparar estudantes para o ENEM e os vestibulares, essa escola não pode renunciar à formação do leitor ideal. Aquele que é capaz de contemplar, duvidar, interpretar, criar. Aquele que precisa de maturação. Como as plantas, cada pessoa envolvida no processo educativo cresce a seu modo, com suas estações, suas pausas, suas transformações internas. Impor uma única velocidade à formação é como exigir que todas as sementes floresçam ao mesmo ritmo.
E nesse projeto, o papel de quem educa é central. Não como objeto de formação, mas como sujeito do seu percurso. Alguém valorizado, escutado, com autonomia para construir e reconstruir seus saberes em diálogo constante com a realidade.
Valorizar o professor é reconhecê-lo como sujeito central na transformação da escola. É garantir sua autonomia formativa e protegê-lo das violências simbólicas, emocionais e institucionais que permeiam o cotidiano escolar. Isso inclui assegurar condições dignas de trabalho, tempo para formação, qualidade de vida e reconhecimento profissional. Se a sociedade remunera médicos e advogados com base em sua formação e responsabilidade, por que não o faz com quem forma todas as outras profissões? Quem ensina precisa ser reconhecido como criador de sentidos, formulador de saberes, cultivador do comum, e não mero executor de diretrizes externas.
Uma escola que valoriza quem educa em todas as suas dimensões, é uma escola que se reconhece como organismo vivo, coletivo e comprometido com o futuro.
Por isso, o horizonte que se abre diante de nós é o de uma floresta pedagógica. Em vez de salas de aula estanques, clareiras de encontro. Em vez de testes padronizados, perguntas frutíferas. Em vez de controles centralizados, redes de escuta e cuidado. A escola do futuro será como a floresta: diversa, sensível e cooperativa. Caso contrário, perderá sua razão de existir.
Presidente da Fundação PoliSaber, diretor do Cursinho da Poli e membro titular da Mesa Diretora da Comissão Nacional para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (CNODS).